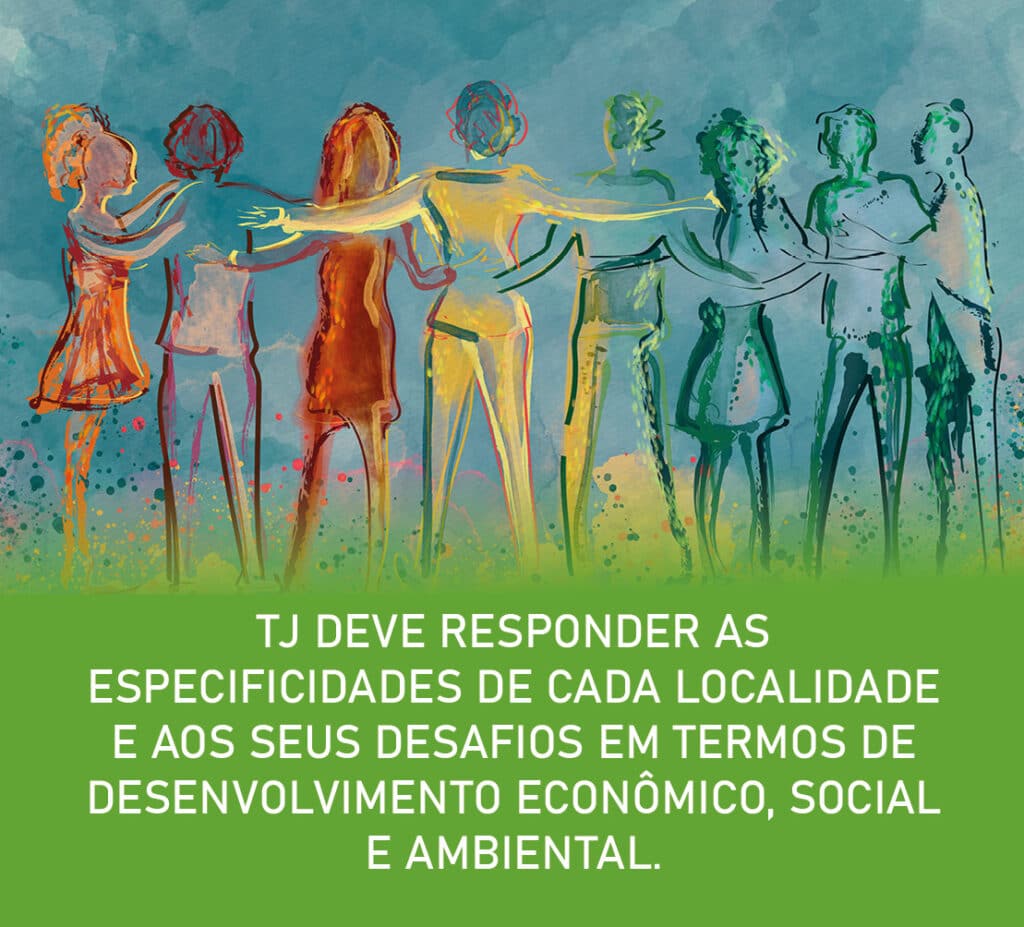TJ deve responder as especificidades de cada localidade e aos seus desafios em termos de desenvolvimento econômico, social e ambiental.
Por Fernando Amorim Teixeira[1] Paulo Jager[2] Luan Candido[3] Cloviomar Cararine[4] Carlos Takashi[5]
O tema das mudanças climáticas tem envolvido um número cada vez maior de atores sociais. O que antes esteve restrito a especialistas, a representações de povos tradicionais e a poucos Estados nacionais – em geral, países do Norte global –, vem ganhando efetiva dimensão planetária e mobilizando maiores esforços tanto em países desenvolvidos, quanto em países pobres e em desenvolvimento.
Em boa medida, essa nova realidade se deve ao fato de que diversos dados recentemente publicados, como os contidos no relatório do International Painel on Climate Change (IPCC), do ano de 2022, são alarmantes e reforçam a urgência de promover transformações nas estruturas produtivas para reduzir as emissões de gases poluentes. Parte expressiva de tais mudanças deverão ocorrer de forma coordenada entre os países ainda nas próximas duas décadas. Caso contrário, diversos biomas serão atingidos de maneira irreversível, gerando graves repercussões para as populações, em especial as mais vulneráveis.
Dentro desse contexto, são diversas as “transições” em debate, todas elas pertinentes e necessárias. Ao longo das próximas linhas, faremos apontamentos acerca de uma dessas transições, que articula as noções de justiça social e ambiental a chamada Transição Justa (TJ). Como conceito em permanente disputa – e que passa por constantes mutações -, a TJ deve responder as especificidades de cada localidade e aos seus desafios em termos de desenvolvimento econômico, social e ambiental. Discuti-la a partir da realidade brasileira é o principal objetivo desse breve texto.
Formalmente, o conceito surgiu a partir de pressão do movimento sindical na década de 1970 nos EUA e tem como elemento fundamental atender aos interesses e perspectivas dos trabalhadores sobre as mudanças climáticas e suas consequências. Em linhas gerais, se baseia na concepção de que as mudanças nas estruturas produtivas, planejadas ou não, precisam ter efeitos positivos em termos de emprego, renda, condições de trabalho e redução das desigualdades – inclusive desigualdades de gênero, de raça e outras. Mais recentemente, tais desafios estão também associados aos desafios impostos pela digitalização, pela urbanização, pela individualização e pela demografia.
A Transição Justa no contexto econômico brasileiro
Qualquer processo de transformação em direção a redução de emissões, deve, portanto, promover a ampliação do acesso a serviços públicos essenciais; a diversificação e complexificação produtiva; a criação de empregos com boas condições de remuneração, trabalho e proteção social; e a inserção de populações historicamente discriminadas, como as mulheres, negros, povos originários, pessoas com deficiência e outros. Ignorar tais questões teria como consequência imediata que, ainda que o processo de transição produtiva viesse a ser exitoso, não seria justo. Em verdade, a posição subordinada de países como o Brasil, se não for contestada política e economicamente, aponta exatamente para a possibilidade de uma “transição injusta”.
Cabe mencionar ainda que nossa inserção na divisão internacional do trabalho, como produtores de insumos de baixo valor agregado e importadores de bens manufaturados, foi agravada com as mudanças institucionais que introduziram novas formas de precarização das relações de trabalho e com as inovações tecnológicas nos últimos anos. Adicionalmente, a agenda de reformas liberais implementadas no governo Temer e aprofundadas em Bolsonaro minou o nosso Sistema de Relações de Trabalho (SRT) tal qual o conhecíamos, através da criação de novas formas de contratação; impôs maiores dificuldades à organização e financiamento sindical; e dificultou o acesso à Justiça do Trabalho, entre outros constrangimentos. A esses ataques, somam-se o esgarçamento de nossas instituições e da própria democracia brasileira, o que, em conjunto, aprofundam o desafio de uma TJ no caso brasileiro.
É possível uma transição justa sem a participação dos trabalhadores?
A construção de um processo de TJ requer, e deve garantir, a participação intensa dos trabalhadores que serão afetados pelas mudanças, direta ou indiretamente. Seja porque são parte interessada; seja porque, devido a seu conhecimento, podem contribuir de maneira relevante. Há riscos evidentes para os trabalhadores e suas famílias. Riscos em termos de emprego, renda, carreira profissional, direitos previdenciários, ou mesmo riscos em termos de sociabilidade, identidade, cultura, etc.
A participação ativa da sociedade civil deve se somar a centralidade da participação estatal. A transição econômica para uma estrutura com emissões líquidas iguais a zero é um processo de longo prazo, abrangente, que envolve potencialmente diversos segmentos de atividade econômica e atores sociais e requer um volume elevado de recursos, fontes de financiamento, garantias, desenvolvimento tecnológico, articulação em nível internacional, poder coercitivo em determinadas situações, etc. Apenas o Estado pode coordenar e articular todos esses aspectos.
A mudança dos ventos e necessidade de se construir uma agenda nacional de TJ
Na Cop-27, realizada no Egito em novembro de 2022, o então recém-eleito Presidente Lula colocou a transição energética com justiça social como o principal desafio global. Mas como desenvolver maneiras de fazer com que o Estado, as empresas e os trabalhadores se direcionem a construir soluções comuns diante dos múltiplos conflitos de interesse existentes – que devem se aguçar em um cenário de mudança climática?
A priori, devem ser discutidos quais os instrumentos a disposição para empreendermos políticas adequadas em termos monetários, fiscais, de financiamento, de ciência e tecnologia, investimentos públicos em infraestrutura, etc. Há, ainda, a necessidade de construção de espaços mais democráticos de diálogo que permitam maior incidência por parte dos trabalhadores, partindo da premissa de que qualquer mudança substancial que vise transformar a estrutura produtiva e gerar empregos de qualidade, num contexto de descarbonização, só será possível com um Estado forte, ativo e responsivo às demandas dos mais vulneráveis.
Blog: Democracia e Economia – Desenvolvimento, Finanças e Política
O Grupo de Pesquisa em Financeirização e Desenvolvimento (FINDE) congrega pesquisadores de universidades e de outras instituições de pesquisa e ensino, interessados em discutir questões acadêmicas relacionadas ao avanço do processo de financeirização e seus impactos sobre o desenvolvimento socioeconômico das economias modernas. Twitter: @Finde_UFF
O Grupo de Estudos de Economia e Política (GEEP) do IESP/UERJ é formado por cientistas políticos e economistas. O grupo objetiva estimular o diálogo e interação entre Economia e Política, tanto na formulação teórica quanto na análise da realidade do Brasil e de outros países. Twitter: @Geep_iesp
[1] Técnico do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese) e doutorando em Economia pela UFF.
[2] Supervisor Técnico do Escritório Regional do Rio de Janeiro do Dieese e mestre em Estatística pela ENCE/IBGE.
[3] Técnico do Dieese e economista formado pela UFF.
[4] Técnico do Dieese e doutorando em Sociologia pela UFRJ.
[5] Técnico do Dieese e doutorando em Sociologia pela USP.
[Publicado originalmente em jornalggn.com.br ]